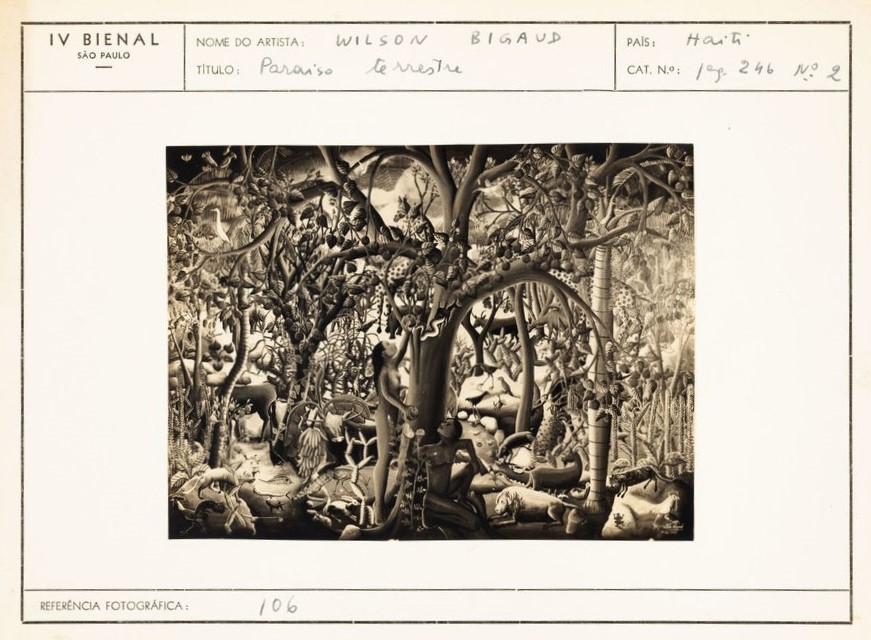Ao longo do ano de 2020, através de cartas como esta, o corpo curatorial da 34ª Bienal de São Paulo torna públicas reflexões sobre a construção da mostra. Esta sexta carta foi escrita por Paulo Miyada.
Um ensaio. Tentativa de estar junto de uma certa ideia sem isolá-la, mas, antes, caminhando a seu lado enquanto ela se entretece com fluxos de pensamentos, acontecimentos e reminiscências.
Isto é um ensaio sobre o ensaio. Uma associação de reflexões sobre o exercício processual de chegar mais perto de alguma coisa pela tentativa e pelo erro. Uma forma aberta que debate a abertura dos aprendizados.
O artista carioca Hélio Oiticica viveu no exterior durante os anos documentados como os mais violentos do regime militar, aqueles que sucederam o Ato Institucional No. 5 (AI-5) de dezembro de 1968. De volta ao Brasil em 1978, testemunhou a incompletude da distensão "lenta, gradual e segura" da ditadura prometida pelo general Ernesto Geisel: apesar da diminuição dos ataques aos políticos, ativistas, jornalistas, estudantes, sindicalistas, artistas, advogados e professores, a violência institucionalizada pelo regime havia agravado uma ferida muito mais antiga, mais abrangente e mais profunda - a do genocídio premeditado da população negra, pobre e marginal - e isso estava longe de acabar.
Isto é um ensaio sobre o ensaio que foi escrito na América Latina, onde forças políticas e projetos de poder recorrentemente proclamam novas eras de progresso e civilização, que nascem prematuras e destinadas ao abandono. Onde o ensaio especulativo é a forma por excelência do crescimento urbano e infraestrutural, em detrimento do planejamento e da construção coletiva das ideias de cidade e de território.
Em francês, essayer é “tentar”, mas também pode ser “fazer um ensaio”. Em inglês, essay não tem a mesma raiz de rehearsal. Em macuxi, esenupan é “ensaiar” e “treinar”, mas é também “ensinar” e “aprender”. Em japonês, 復習える (saraeru) equivale a “ensaiar” e traz a combinação de ideogramas que remetem às ideias de repetição e aprendizado.
Na América Latina, muitas vezes sobra 復 (repetição) e falta 習 (aprendizado). O ensaio do desenvolvimento se repete e não aprendemos suas lições. Eternamente emergentes, nações se lançam eufóricas a novas construções e as abandonam, semiprontas ou já-ruínas, para retornar a seu lugar comum de fornecedoras de commodities. As Olimpíadas, as hidrelétricas, as barragens, as catequizações. O cobre, o nióbio, o pau-brasil. Ou então: a república, a democracia, a integração racial, logo antes e logo depois da dependência econômica, da ditadura, da escravidão. A educação e a censura em uma fita de moebius.
Em uma entrevista feita após seu retorno ao Rio de Janeiro, Oiticica falou sobre a tristeza de perceber que não poderia encontrar mais muitos dos amigos que havia feito em meados da década de 1960 no samba e nas favelas do Rio: “Sabe o que eu descobri? Que há um programa de genocídio, porque a maioria das pessoas que eu conhecia na Mangueira ou tão presas ou foram assassinadas”. Em 1965, Hélio acompanhara de perto a ascensão de uma das primeiras milícias cariocas, o Esquadrão da Morte “Scuderie Detetive Le Cocq”, cujo líder inspirador foi um detetive de polícia morto em confronto com o bandido Cara de Cavalo, amigo de Oiticica que foi tratado como inimigo número 1 do país e executado de forma brutal. Uma década depois, ele percebeu quão amplo era o saldo da escalada da violência estatal e paraestatal e foi uma das primeiras vozes a desafinar o tom da “redemocratização”, apontando para a persistência do ataque massivo à população periférica, majoritariamente negra.
Aqui, quando há monumentos, são sobretudo aqueles que descaradamente reescrevem a história em versão gloriosa. Há poucos museus da violência e do conflito. Quase nenhum aprendizado.
Seria melhor abandonar esses monumentos e multiplicar o ensaio como verbo que apalpa e respira. Ensaiar aproximações e distâncias, justaposições e encadeamentos provisórios para deixar mais ou menos evidentes certos conjuntos de relações.
Em 1979, abalado pela execução de mais um amigo, Oiticica concebeu um “parangolé-área” chamado A ronda da morte. No formato de uma tenda de circo negra, teria luzes estroboscópicas e música tocando em seu interior, convidativas, para que as pessoas pudessem entrar e dançar. Enquanto a festividade se desenrolasse no seu interior, o perímetro da tenda seria cercado por homens a cavalo, que dariam voltas em torno dessa área emulando uma ronda. A música no interior embalaria o risco iminente que estaria do lado de fora, alusão direta ao estado de vigilância e violência que persistia apesar da aparente normalização do cotidiano.
Enquanto viajavam as primeiras notícias sobre a epidemia do novo coronavírus em Wuhan, as chuvas de verão trouxeram a diversas capitais brasileiras um ciclo de repetições e retornos do que antes fora recoberto. Se tantas cidades foram construídas pela ganância, cravando vias expressas sobre os leitos encanados de seus principais rios, bastaram algumas tempestades mais inclementes para que as águas se indisciplinassem, recompondo os rios por sobre as ruas submersas. Alguns meses se passaram e aquela epidemia cujas notícias vinham de longe se transformou em pandemia global, outra forma de catástrofe que coloca em dúvida a sustentabilidade do modo como ocupamos e consumimos o planeta.
Em 2019, imaginamos que poderia ser a hora de retirar do papel a proposta da A ronda da morte, pois o programa de genocídio de que falava Oiticica infelizmente segue presente na realidade do país, patente por exemplo nas aplicações assimétricas da lei que se refletem na racialização do sistema penal brasileiro. Persistem também os esquadrões da morte e as milícias, atuando não apenas de forma local, mas vinculados a figuras de poder de alto escalão. Ainda que a estratificação social e racial do país blinde certos setores da sociedade para seguir dançando como se tudo estivesse bem, basta sair um pouco dos bairros elitizados das grandes capitais para perceber que a morte nunca deixou de estar à espreita.
Planejamos, por isso, que a última performance a anteceder a abertura da mostra principal da 34ª Bienal seria a A ronda da morte. Não se tratava de um processo simples, pois as instruções de Oiticica são bastante abrangentes, deixando muita margem para interpretação e muitos desafios de tradução para o tempo presente. Agora a situação agravou-se pela pandemia, que desafia qualquer planejamento e desfavorece, especialmente, grandes aglomerações – como a que Oiticica almejava.
O mais provável é que, mais uma vez, a A ronda da morte siga como uma ideia não-realizada; mas os motivos dessa suspensão possibilitam uma reconsideração sobre a presença da morte. Por um lado, a Covid-19 rompeu todas as bolhas protetoras que deixavam parcelas da população se iludirem sobre a segurança de suas câmeras de vigilância, sistemas de alarme e vidros blindados – o vírus pouco se importa com as salvaguardas oferecidas por esses dispositivos. Por outro, a conduta de alguns políticos e empresários materializa de forma brutal o projeto genocida de construção deste país, alimentando a angústia e a revolta frente aos efeitos multiplicados que a pandemia pode ter em periferias, comunidades e presídios. A morte se universaliza como ameaça comum, ao mesmo tempo que se agrava como realidade desigual. Talvez A ronda da morte não precise acontecer no Pavilhão da Bienal, porque ela está em todo lugar. Só não há música e nem o estampido das patas de cavalos. O silêncio da cidade amordaçada é interrompido apenas pelas sirenes, panelaços e pelos cantos que cruzam as vizinhanças.
Outra lembrança: o músico baiano Dorival Caymmi gostava de repetir palavras muito simples em suas canções. Bonito, bonito; palmeira, palmeira; areia, areia; saudade, saudade. Seu canto contido trazia apenas o suficiente para deixar transpirar a diferença sutil que cada signo trazia, inevitavelmente, a cada repetição. Uma diferença da mesma ordem de grandeza da diferença entre as ondas que quebram na beira do mar.
Para além da lição de forma, Caymmi transformava em canto uma proposta alternativa de relação com o território, na qual os humanos é que deviam aprender a amoldar-se à temporalidade cíclica da natureza, em vez de impor a ela sua temporalidade cumulativa e linear.